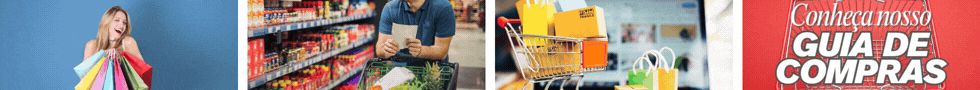A repressão penal a ofensas contra os bens jurídicos mais relevantes não é apenas legítima, mas necessária em qualquer Estado de Direito. Porém, isso não autoriza que a reação penal se dê à margem das garantias processuais que estruturam o próprio Estado de Direito. Mesmo em situações de grave calamidade institucional, comoção de repercussão nacional ou até em caso de guerra, as medidas excepcionais previstas em nosso ordenamento (estado de defesa ou estado de sítio) estão sujeitas a regras claras e limites objetivos.
É nesse ponto que se impõe uma reflexão sobre os inquéritos das fake news (INQ 4.781), das milícias digitais (INQ 4.874) e outros, bem como sobre as ações penais deles decorrentes, inclusive aquelas relacionadas aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Ciente de que muito já foi explorado sobre o tema e pretendendo apenas contribuir para o debate, a partir de uma breve retrospectiva histórica, coloca-se a seguinte questão (estritamente jurídica e não política ou ideológica): a gravidade dos fatos investigados justifica a violação das garantias constitucionais do processo penal? A resposta, à luz da Constituição de 1988, das leis brasileiras e da própria jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria ser clara: não pode.
No dia 14 de março de 2019, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por meio da Portaria GP n. 69, instaurou de ofício – sem provocação da polícia federal ou da Procuradoria-Geral da República (PGR) – o inquérito das fake news (também conhecido como inquérito “do fim do mundo” – INQ 4.781), para apurar supostos crimes contra a honra e ameaças dirigidas a ministros da Corte. Em vez de determinar o sorteio para a escolha do relator, como manda a lei, designou, sem nenhuma explicação, o ministro Alexandre de Moraes para essa função. A partir dessa investigação, desenvolveu-se mais tarde o inquérito das milícias digitais, cujo objeto foi progressivamente ampliado, passando a abranger condutas genéricas contra a democracia, a ordem constitucional e o Estado de Direito. O ministro relator, então, estabeleceu um canal direto de atuação com uma equipe de delegados da polícia federal, colocando-se no lugar da Procuradoria-Geral da República, a quem caberia a direção da investigação.
No dia seguinte à instauração do inquérito, a PGR solicitou informações ao ministro relator acerca do objeto específico da investigação; além disso, apontou as graves consequências da situação ali retratada (a referência é à investigação e não aos fatos investigados). Passados trinta dias sem resposta, a PGR, Raquel Dodge, exercendo seu papel constitucional e diante das evidentes ilegalidades existentes, arquivou o inquérito. É importante destacar que, ao contrário do arquivamento promovido pelas instâncias inferiores do Ministério Público (que pode ser revisto por um órgão superior do próprio Ministério Público), o arquivamento determinado pela PGR é irrecusável, segundo a legislação e a própria jurisprudência do STF, pois o chefe do Ministério Público Federal deu a palavra final sobre uma investigação, inexistindo possibilidade legal de revisão (nada impedindo a reabertura do inquérito pela PGR, caso surjam novas provas).
No universo de J. R. R. Tolkien – O Hobbit e O Senhor dos Anéis –, o Um Anel do Poder representa uma força irresistível e corruptora, que domina quem o possui e praticamente impede sua renúncia espontânea. A cada nova utilização, o anel progressivamente deforma a alma de seu portador. De forma análoga, o STF parece ter se apegado a um poder incontrastável
Moraes, contudo, contrariando a legislação e a jurisprudência do STF, simplesmente ignorou o arquivamento determinado pela PGR e prosseguiu conduzindo o inquérito das fake news. A PGR recorreu, mas a decisão foi mantida.
Essa iniciativa judicial direta para instauração e condução da investigação configura uma ruptura com o sistema acusatório previsto na Constituição Federal (artigo 129, inciso I) e no Código de Processo Penal (artigo 3º-A). De acordo com esse sistema, cabe ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública, a iniciativa da persecução criminal e a supervisão das investigações, enquanto ao Judiciário compete a função de autorizar a produção de provas que exigem decisão judicial (busca domiciliar, interceptação telefônica etc.), proteger direitos fundamentais e julgar com imparcialidade. Quando o próprio tribunal instaura e dirige o inquérito (por meio de linha direta com a equipe de delegados), ignora o arquivamento promovido pela PGR e prossegue com as investigações, autoriza medidas invasivas e posteriormente julga os fatos, ocorre uma grave confusão de funções entre o juiz e as partes, comprometendo a imparcialidade e o devido processo legal.
Não se trata de formalismo. Trata-se da separação funcional mínima que impede a transformação do juiz em parte do processo, com evidente quebra da imparcialidade judicial.
Outro ponto crítico é o da definição da relatoria da investigação. A escolha direta do ministro relator do inquérito das fake news (Alexandre de Moraes) pelo então presidente do STF (Dias Toffoli), sem distribuição regular, é heterodoxa e absolutamente incomum, violentando os princípios da impessoalidade e do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição), os quais asseguram que ninguém será julgado por juiz ou tribunal designado por interesse ou conveniência. É o denominado juiz ad hoc, escolhido especialmente para o caso, explicitamente vedado pela nossa Carta Magna (art. 5º, XXXVII). Não se conhece, na história do STF, nenhum precedente validando semelhante distribuição ilícita e direcionada de processo ou inquérito.
É importante salientar, ainda, a absoluta incompetência do STF para conduzir o inquérito, uma vez que não foram indicados, no momento de sua instauração, alvos da investigação com foro privilegiado na Corte Suprema.
Cabe destacar que, segundo a jurisprudência do próprio STF, a incompetência do juízo contamina todos os atos decisórios, provocando a sua nulidade, conforme o art. 567 do Código de Processo Penal. Foi exatamente esse o fundamento utilizado para anular os processos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Se a violação ao juiz natural gera nulidade insanável nesses casos, não há base jurídica consistente para relativizar a mesma garantia quando o processo tramita no próprio Supremo.
Os mesmos vícios acima apontados atingem o inquérito das milícias digitais, que derivou do inquérito das fake news e foi instaurado e dirigido pelo mesmo ministro relator, sendo posteriormente utilizado como base para as ações penais que resultaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores, por tentativa de golpe de Estado e outros delitos. Violações ao sistema acusatório, aos princípios do juiz natural, da impessoalidade e da imparcialidade provocam, aqui também, a nulidade de todos os atos decisórios, o que abrange a condenação dos réus, ainda que transitada em julgado.
Recentemente, conforme noticiado na imprensa, o ministro Alexandre de Moraes instaurou novo inquérito de ofício (sem provocação da PGR ou da polícia federal) para apurar suposta violação de dados sigilosos (de parentes de ministros da Corte) por agentes públicos da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A apuração ocorre após a revelação, pela imprensa, de ligações entre familiares de ministros do Supremo e o Banco Master, instituição envolvida em um escândalo de fraude financeira. Mesmo sem qualquer notícia de que os fatos envolvam agente com foro privilegiado no STF, o ministro atraiu o caso para a Corte Suprema e se autodesignou para conduzir o procedimento como relator.
VEJA TAMBÉM:
- Prisão cautelar: STF viola sistema acusatório e garantia da imparcialidade
- Um código de conduta e de ética faria bem ao Supremo Tribunal Federal?
Tal iniciativa intensifica os vícios já identificados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais, configuraPrisão cautelar: STF viola sistema acusatório e garantia da imparcialidadendo nova afronta ao Estado de Direito, com a agravante de haver impedimento legal de atuação do relator no caso, pois sua esposa figura como vítima (art. 252, IV, do Código de Processo Penal). Esse conjunto de ilegalidades fere os mais basilares princípios constitucionais, gerando insegurança jurídica e criando verdadeiro tribunal de exceção, típico de regimes autoritários.
Vale lembrar que, historicamente, as decisões do STF pautaram-se no respeito aos princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Nessa linha, o tribunal pleno sempre decidiu que a manifestação de arquivamento do inquérito pela PGR “não pode deixar de ser acolhida pelo STF, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável” (Pet 2509 AgR). Em julgamento recente (ADI n. 6298), o plenário da Corte firmou o entendimento de que o princípio acusatório exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, vedando-se a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória das partes, significando “que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo”.
Nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, o STF reafirmou que juiz incompetente (ofensa ao princípio do juiz natural) ou parcial invalida todo o processo, independentemente da gravidade dos fatos imputados.
Na operação Satiagraha, o Supremo trancou a persecução penal ao reconhecer a ilicitude da busca e apreensão: no caso, o mandado de busca autorizava a realização da diligência no 28º andar de um edifício (endereço profissional do investigado), mas os policiais ampliaram a diligência e realizaram a apreensão no 3º andar (sede do banco).
A mensagem desses precedentes é inequívoca e revela o rigor do STF na defesa da legalidade: a repressão penal não autoriza a quebra das regras e princípios basilares do processo penal.
É fácil perceber que os vícios dos inquéritos acima mencionados não se resumem à simples divergência de interpretação sobre normas de competência: na verdade, cuida-se de uma declaração de guerra, um ato de puro exercício do poder estatal contra aqueles que a Suprema Corte viu como seus inimigos. Foi o início de uma “jurisprudência de guerra”, para citar a expressão empregada por Felipe Recondo e Luiz Weber, em livro já resenhado nesta Gazeta (O Tribunal – como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, Companhia das Letras, 2023). Noutras palavras, representou a instituição de um estado de sítio judicial, com a suspensão (não afirmada expressamente) de diversas garantias processuais fundamentais, sem nenhum amparo na legislação.
VEJA TAMBÉM:
- O STF transformou-se em um poder político – e isso é péssimo para o Brasil
- STF, processo penal e o regime de exceção das normas constitucionais
Conforme observa Bianca Cobucci Rosière (8 de janeiro e o direito penal do inimigo, Editora E.D.A., 2024), há um aspecto teórico que ajuda a compreender a excepcionalidade desses procedimentos: a aproximação prática, ainda que não declarada, com a lógica do chamado “direito penal do inimigo”, formulada pelo jurista alemão Günther Jakobs. Segundo essa concepção, o Estado deixa de tratar determinados indivíduos como cidadãos titulares de direitos e passa a encará-los como ameaças a serem neutralizadas. As garantias processuais deixam de ser limites ao poder punitivo e passam a ser vistas como obstáculos à defesa da ordem. Antecipam-se medidas repressivas, flexibilizam-se regras probatórias e relativiza-se o devido processo legal em nome da segurança institucional, da defesa do Estado Democrático de Direito e da ordem constitucional.
O que se observa nos inquéritos supremos, então, é um afastamento progressivo do paradigma histórico de respeito ao devido processo legal. A instauração de ofício da persecução penal, a atuação de ministro impedido, a ausência de distribuição legal (por sorteio) dos inquéritos, a concentração de funções investigativas e jurisdicionais e o atropelo das prerrogativas da PGR aproximam-se, na prática, da lógica do direito penal do inimigo, ainda que sem essa denominação explícita. A propósito, é ilustrativa a descrição que Felipe Recondo e Luiz Weber fazem (na citada obra) ao defender a atuação do STF: “Decidiu decidir como entendesse mais adequado. Reinterpretou determinados conceitos conforme suas estratégias processuais e institucionais, mudou seus próprios entendimentos conforme a circunstância de momento, decidiu casos com um olho no direito e outro na conjuntura política. No nome de quem estava sendo processado”. Sem dúvida, isso representa a aplicação prática do direito penal do inimigo.
O risco institucional é evidente. Ao substituir o nosso sistema constitucional e legal por um paradigma excepcional (sem nenhum fundamento jurídico), mesmo sob o argumento da defesa da democracia, o Estado passa a tratar determinados investigados não como titulares de direitos fundamentais, mas como ameaças sistêmicas, para as quais as garantias constitucionais seriam relativizadas ou suprimidas, sem limites claros e objetivos, sem amparo na Constituição e obedecendo apenas à vontade discricionária do STF.
Em um contexto de normalidade institucional, decisões judiciais injustas ou ilegais podem ser corrigidas por meio da utilização dos diversos recursos e ações constitucionais previstos em nosso sistema jurídico. No entanto, no caso dos inquéritos supremos em análise, todas essas medidas já foram utilizadas e a própria Corte Suprema revela sinais claros de que não pretende retroceder. As tentativas feitas por outros poderes no sentido de equilibrar a atuação jurisdicional do STF foram, igualmente, repelidas, como exemplifica a anulação do decreto de indulto presidencial ao ex-deputado Daniel Silveira.
Dessa forma, abrem-se basicamente duas soluções possíveis para conter a erosão do Estado de Direito provocada por esses procedimentos ilegais. A primeira é a denúncia das ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), exercendo pressão política internacional para a correção dos abusos. Contudo, é importante destacar que as decisões da CIDH têm, em geral, um caráter mais político do que jurídico, dependendo da cooperação dos Estados para sua implementação, o que pode limitar o seu efeito prático.
A segunda alternativa reside no acionamento do sistema constitucional de freios e contrapesos, a cargo do Senado. Cabe a essa Casa legislativa exercer seu papel de controle sobre o Poder Judiciário, utilizando instrumentos como a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF em casos de condutas ilegais ou abusivas. Essa medida busca impor um “freio de arrumação” à Corte, restaurando o equilíbrio institucional e garantindo a observância dos princípios constitucionais fundamentais do processo penal.
No universo de J. R. R. Tolkien – O Hobbit e O Senhor dos Anéis –, o Um Anel do Poder representa uma força irresistível e corruptora, que domina quem o possui e praticamente impede sua renúncia espontânea. A cada nova utilização, o anel progressivamente deforma a alma de seu portador. De forma análoga, o STF parece ter se apegado a um poder incontrastável, instaurando e conduzindo inquéritos de ofício e acumulando funções indevidas, sem conseguir “deixar o anel”, aprofundando, a cada nova investigação, a ruptura com a legalidade, ampliando cada vez mais o leque daqueles que vê como “inimigos”.
Esse poder imparável, concentrado e sem limites claros ameaça corroer as instituições democráticas e as garantias fundamentais, convertendo o Judiciário em protagonista e agente político, distanciado do paradigma constitucional. A defesa da democracia não pode se converter em sua negação.
A superação desse impasse exige coragem e ação conjunta dos poderes da República e da sociedade civil, para que o “anel do poder” nas mãos do STF não se transforme em uma maldição irreversível sobre a democracia brasileira. Defender o Estado de Direito passa por respeitar as regras e limites que tornam o poder justo e legítimo. Por esse caminho, há uma esperança de retorno à normalidade institucional, tão aguardada por todos.
João Fiorillo de Souza, graduado em Direito, pós-graduado em Ciências Penais, mestre em Direito Público, é defensor público do estado de Alagoas e autor do livro “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal” (ed. Juruá, 2012).
Autor: Gazeta do Povo









.gif)