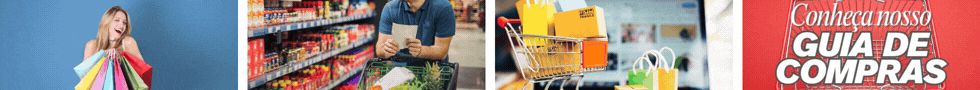“Uma das mais acentuadas características do barbarismo vertical consiste em apresentar a força como superior ao direito. O direito não é mais o que é devido à natureza de um ser estática, dinâmica e cinematicamente compreendido, e que, portanto, funda-se num princípio de justiça, que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, e em não lesar esse bem. O direito não é o reconhecimento natural dessa verdade, mas apenas o que provém do arbítrio que possui o kratos (o poder) político.” (Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos)
Diz o anedotário histórico que Calígula, para escarnecer do Senado de Roma, teria cogitado nomear para o cargo de cônsul o seu adorado cavalo Incitatus. Diante do que se sabe sobre o voluntarismo irrefreado do imperador romano, não é difícil imaginar que a história possa ser verdadeira. Mas, seja ou não verdadeira, a anedota sobrevive como parábola política, sugerindo que uma nação não é destruída apenas por agressão externa, mas sobretudo quando suas instituições são carcomidas por dentro, esvaziadas até o ponto em que o grotesco se torna rotina. Não foi o cavalo que rebaixou o Senado romano. O Senado é que já fora rebaixado para comportar o cavalo.
O Brasil contemporâneo oferece material abundante para essa reflexão. O nosso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi rebaixado pelo lulopetismo para abrigar o companheiro Dias Toffoli. O escândalo do Banco Master – com as revelações sobre relações impróprias entre Toffoli e o empresário Daniel Vorcaro – é muito mais que um caso isolado de promiscuidade institucional. Trata-se do sinal exterior mais visível de um processo longo, profundo e irreversível de cancerização da República. Ele revela a consolidação de um patrimonialismo ideologicamente armado, que transformou o Estado brasileiro em território de ocupação sistemática.
A nomeação de Toffoli para o STF foi um dos primeiros grandes tapas na cara da sociedade desferidos pelo lulopetismo
No clássico Os Donos do Poder, Raymundo Faoro identificou brilhantemente o estamento burocrático que, desde a formação portuguesa, captura o aparelho estatal e o administra como extensão de interesses próprios. Segundo Faoro, o patrimonialismo brasileiro não seria um vício moral circunstancial, mas uma forma estrutural de poder. A triste ironia histórica é que Faoro tenha participado justamente da fundação do Partido dos Trabalhadores, acreditando talvez que ali se gestava a ruptura com essa tradição. O homem que tanto acertou no diagnóstico não poderia ter errado mais na escolha política, pois o que se assistiu desde então foi à elevação do patrimonialismo ao seu estado da arte.
Sim, mais do que simplesmente repetir o patrimonialismo brasileiro consagrado, o lulopetismo deu-lhe a fundamentação teórico-ideológica, sem nunca deixar de fingir que o combatia. Antonio Gramsci – pai intelectual do partido e grande teórico do aparelhamento – forneceu o mapa: conquistar a hegemonia por meio da ocupação capilar das instituições; transformar a cultura em instrumento de poder; converter tribunais, universidades, agências e estatais em pontos de sustentação de um projeto de longo prazo; enfiar seus militantes (os “companheiros”) nas mais variadas posições de poder e influência. Inspirando-se na ideia gramsciana de “Estado ampliado”, o PT traçou o objetivo de governar não apenas o Executivo, mas dirigir o imaginário, a linguagem e os próprios critérios de legitimidade social.
Um dos atos simbólicos inaugurais dessa mentalidade foi tão medíocre na forma quanto infame na substância: a estrela do PT incrustada nos jardins do Planalto nos primeiros dias do primeiro mandato do descondenado-em-chefe, por ordem da então primeira-dama, Dona Marisa. A mensagem era clara: a partir dali, o Estado já não seria um espaço transitório de administração, mas a extensão simbólica da agremiação. A República tornava-se paisagem partidária.
Só é possível compreender a ascensão de uma figura como Dias Toffoli ao poder dentro dessa lógica. Reprovado duas vezes em concursos para a magistratura, foi alçado ao ápice do Judiciário pela via da lealdade política, encarnando o tipo ideal do quadro partidário promovido não pela excelência (inexistente, no caso), mas por ser útil à causa partidária. Toffoli era o Incitatus de Lula. Sua nomeação foi um dos primeiros grandes tapas na cara da sociedade desferidos pelo lulopetismo. Mas, como as instâncias de formação da opinião pública também já haviam sido devidamente aparelhadas, o Brasil aceitou o tapa como se fosse uma bênção.
O escândalo que hoje envolve Toffoli, e cuja exposição incomoda o regime, deve ser lido no contexto do patrimonialismo petista. O caso ilustra a naturalização de relações promíscuas entre a alta magistratura e interesses privados sob a blindagem de um sistema de lealdades recíprocas. Todas as ações do STF ao longo dos últimos anos – incluindo a perseguição política à direita nacional, a edificação de um complexo industrial da censura e o processo judicial farsesco contra Jair Bolsonaro e os “golpistas” do 8 de janeiro – devem ser lidas nessa chave. Quando quadros formados no interior de uma cultura partidária ascendem aos postos máximos da República, a distinção entre função institucional e solidariedade orgânica tende a dissolver-se.
A história fornece analogias instrutivas. Em A Tragédia de um Povo, o historiador britânico Orlando Figes descreve como, após 1917, o Estado russo foi rapidamente ocupado por militantes socialistas cuja principal qualificação era a fidelidade ideológica. A máquina administrativa transformou-se em extensão do partido, e a competência técnica – para não falar da exigência ética mínima – tornou-se secundária diante da ortodoxia. A antiga elite administrativa foi afastada; em seu lugar, instalaram-se comissários cuja credencial exclusiva era a submissão ideológica. A competência tornou-se suspeita; a experiência prévia, sinal de contaminação burguesa. O resultado foi uma burocracia ideológica, frequentemente inepta, mas ferozmente leal. O Estado soviético tornou-se máquina de promoção do homem novo – e de eliminação do homem qualificado.
Eric Voegelin, ao analisar o colapso social da Alemanha nazista em Hitler e os Alemães, emprega o termo “ralé” num sentido técnico. Não se trata de invectiva moral nem de sociologia de classe. Voegelin não fala de pobres, nem de ignorantes no sentido convencional. A “ralé”, no vocabulário do autor, designa um tipo espiritual: homens incapazes de reconhecer a autoridade da razão e do espírito, e que, mais do que isso, chegam a experimentar essa autoridade como afronta. São indivíduos cuja consciência se fechou à tensão em direção à verdade – aquilo que, em Voegelin, constitui a própria estrutura da ordem humana.
Quando quadros formados no interior de uma cultura partidária ascendem aos postos máximos da República, a distinção entre função institucional e solidariedade orgânica tende a dissolver-se
Para Voegelin, uma sociedade mantém-se culturalmente íntegra enquanto suas posições de liderança e influência são ocupadas por pessoas capazes de responder ao Logos, isto é, de se deixar interpelar pela realidade. O colapso começa quando essa hierarquia invisível se inverte e os postos mais elevados passam a ser ocupados não pelos melhores, mas pelos mais ideologicamente servis. A elite transforma-se, então, em instrumento de algo inferior a ela mesma. E, nesse momento, a palavra “elite” converte-se em ironia.
Voegelin identificou na Alemanha protonazista essa inversão fatal: a ascensão de uma elite composta por homens espiritualmente inaptos. “Há homens que são ralé”, escreve ele, “no sentido em que não têm autoridade de espírito ou de razão, nem são capazes de responder à razão ou ao espírito”. O problema não era apenas a brutalidade do regime, mas a indigência interior de seus protagonistas. A autoridade política passou a ser exercida por homens estruturalmente impermeáveis à autoridade da verdade.
O filósofo relembra um episódio registrado pelo escritor Thomas Mann em seu diário: Max Planck, o grande físico, obrigado por quase uma hora a ouvir o monólogo errático de Adolf Hitler. O contraste não era apenas intelectual, mas civilizacional. O pensamento rigoroso, formado na disciplina da realidade, confrontava-se com a loquacidade obsessiva de um espírito fechado e acabava se curvando – não por convicção, obviamente, mas por imposição do poder. Voegelin comenta com um realismo amargo: quando essa ralé abjeta chega ao poder, a cultura está morta.
O ponto decisivo é que a ralé, assim compreendida, não é um acidente externo à ordem política; ela pode converter-se em seu princípio organizador. Quando a seleção institucional deixa de operar por mérito intelectual e moral e passa a operar por afinidade ideológica, o resultado é previsível: a mediocridade militante substitui a excelência, e o ressentimento converte-se em critério de promoção.
Ressalte-se que o fenômeno não exige caricaturas grotescas. Ele pode manifestar-se sob o manto da normalidade institucional. Mas o traço elementar permanece: a promoção sistemática de quadros cuja principal credencial é a fidelidade partidária, não o estofo intelectual ou a grandeza de caráter. A ocupação de cargos deixa de ser representação da ordem para se tornar um instrumento de captura.
A tragédia, portanto, não reside apenas na existência de figuras individualmente vis ou simplesmente medíocres. Ela consiste na consolidação de um mecanismo institucional que as produz e legitima. Uma vez estabelecido, esse mecanismo opera como uma máquina de inversão hierárquica: o mérito é suspeito, a excelência é vista como hostilidade, a competência independente é percebida como perigo. Quem quer que represente uma ameaça de exposição da estrutura farsesca de poder é mandado para a cadeia.
O Brasil do consórcio PT-STF é um país em que o critério definidor da justiça, da beleza e da bondade é a conveniência partidária
Voltando ao Brasil, conclui-se que o patrimonialismo petista representa a convergência dessas tendências: a tradição estamental descrita por Faoro, o método gramsciano de ocupação e construção de hegemonia, a substituição do mérito pela fidelidade e a naturalização da promiscuidade entre partido e Estado. Se a estrela nos jardins do Planalto foi o prólogo ornamental da República sindicalista, o entrelaçamento entre a alta magistratura e o capitalismo de compadrio é o desonroso epílogo.
O Brasil do consórcio PT-STF é um país em que o critério definidor da justiça, da beleza e da bondade é a conveniência partidária. Tal como na Rússia tomada pelos comunistas e na Alemanha nazista, o nosso país experimenta a degradação institucional, moral e espiritual ocasionada pela ascensão política da ralé. A República pode até conservar formalmente alguns de seus ritos (cada vez mais ridículos), varrer os seus plenários e engomar as suas togas. Porém, quando o padrão humano que os ocupa se rebaixa a tal ponto, é porque já se consumou aquilo que o filósofo Mário Ferreira dos Santos chamou de “invasão vertical dos bárbaros”.
A velha anedota romana deixa, então, de soar extravagante, porque não é apenas de cavalos no Senado que vive uma nação em decadência, mas também de companheiros na corte.
Autor: Gazeta do Povo









.gif)