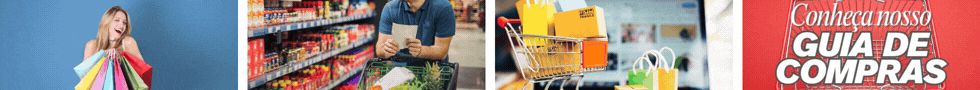Quando o haitiano Ralph Beaubrun começou a postar vídeos de suas aulas de dança no Instagram, em janeiro de 2020, não imaginava que, seis anos depois, teria mais 2,5 milhões de seguidores e uma agenda internacional de workshops. “Eu só estava postando pessoas dançando”, diz. “Não tinha estratégia. Não estava pensando em viralizar.”
Naquele momento, tentava organizar a própria identidade artística em Paris, para onde havia se mudado para estudar. Cantor de um lado, professor de dança popular de outro, criou um perfil separado apenas para as aulas. “Eu queria separar a música da dança. Eu sou cantor. Pensei: vamos deixar a dança ali, só para registrar.” Não havia plano de expansão, calendário de crescimento ou estratégia de marketing. Apenas vídeos de alunos sorrindo.
O ponto de virada começou com o lançamento de “La Madame”, em 2024, canção composta em homenagem à sua mãe, que ainda vive no Haiti. “Sou eu que canto. Fiz para ela”, diz ele, orgulhoso. Semanas depois, o vídeo de uma menina de cerca de 10 anos executando a coreografia de “La Madame” apareceu na rede social.
“Foi a música, a coreografia e a menininha. Tudo junto. E então, um milhão de pessoas apareceram, assim, do nada.” Suas aulas estão longe do balé ou da dança erudita. Nem é preciso saber dançar. Beaubrun usa canções de rádio famosas e se orgulha de fazer dançar pessoas que não sabiam que podiam fazê-lo.
O crescimento de seu perfil, segundo ele, foi orgânico. “As pessoas começaram a ver outras meninas dançando, mulheres dançando. Diziam: ‘Meu Deus, a gente ama a música’. A música começou a subir. O Instagram começou a subir.” Para quem vinha de um início modesto —”comecei com cinco alunos”—, a escala parecia improvável.
Ele conta que avisou a mãe pelo telefone. “Eu disse: mãe, as pessoas estão dançando a sua música.” Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, risos. Aos 72 anos, ela pode não entender muito de Instagram. Mas entende perfeitamente quando Ralph está feliz.
Beaubrun desembarcou nesta sexta (20) em São Paulo para uma série de aulas presenciais. Os workshops na Dance Glow, em Pinheiros, entre os dias 20 e 22 de fevereiro, já estavam com as turmas esgotadas há pelo menos uma semana.
No repertório, coreografias como “Nuevayol” e “DtMF”, de Bad Bunny, “September”, do Earth, Wind & Fire, e “Respect”, com Aretha Franklin, e a cringe “(I’ve Had) The Time of My Life”, famosa trilha do filme “Dirty Dancing”.
Neste próximo fim de semana, ele estará na Bodytech, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e ainda há algumas vagas —que são comprados pelo mesmo perfil do Instagram em que posta os vídeos.
Mesmo sem falar português, incorporou ao repertório uma música da brasileira Marina Sena, descoberta por acaso numa madrugada de insônia. “Eu não conseguia dormir. Estava na cama, olhando o TikTok.” Parou ao ouvir a música.
“Fiquei uma hora e meia assistindo o video.” No dia seguinte, levou a faixa para a aula. “Disse às meninas: hoje vamos dançar uma música brasileira. Não entendo o que ela está dizendo, só amo a música.” Elas aprovaram. Ele ainda não conheceu a cantora. “Ralph Beaubrun é muito tímido”, brinca. “Não quero incomodar. Ela é uma estrela.”
O Brasil, diz ele, ocupa lugar simbólico em sua memória. “Quando eu era jovem, eu amava futebol. No Haiti, ou você é Argentina ou é Brasil. É uma guerra.” A família torcia pelo Brasil. “Eu era adolescente na época do Ronaldo.”
Segundo ele, o público brasileiro teve papel decisivo na expansão da audiência. “Quando as coisas começaram a bombar, o Brasil foi o primeiro país. Eles falaram: ‘Você precisa vir aqui. Você pertence a este lugar’.” Ele repete a frase como quem ainda tenta entender o alcance do próprio trabalho. “É louco porque eu estou em Paris, na França, e as pessoas no Brasil conseguem sentir a alegria.”
Essa última palavra aparece com frequência quando ele fala das aulas. “As pessoas conseguem sentir a alegria quando estão assistindo aos vídeos. Todo mundo está sorrindo.” Para ele, isso diferencia seu trabalho de modelos mais voltados ao condicionamento físico. “Zumba é fitness. Você está dançando, mas é fitness. Comigo, você aprende a coreografia de uma música que ama. E você se diverte.”
A mãe permanece no Haiti, onde ele nasceu e cresceu. “Falo com ela todo dia.” A rotina inclui atualizações simples sobre a vida, comentários sobre as aulas, perguntas sobre a saúde. “Minha mãe está lá. Está respirando, está comendo, está vivendo.”
Questionado sobre a violência e a presença de gangues na capital haitiana, ele responde com cautela. “Há violência em todo lugar, em qualquer grande cidade.” Reconhece que há medo, mas evita a generalização. “A mídia costuma destacar mais esse lado. É ruim, sim. Mas você não vai onde não deve ir.” A mãe, ele diz, sabe como se movimentar. “Ela simplesmente não vai onde as gangues estão.”
Já sugeriu que ela se mudasse para a França. “Eu conversei com ela sobre isso.” A resposta veio rápida. Ela prefere ficar. “Ela ama o clima tropical. Paris é muito frio para ela.” Aos 72 anos, a mãe quer permanecer onde sempre viveu. “Eu quero que ela seja feliz.”
Beaubrun começou a dar aulas em 2015, em Paris. Nascido e criado no Haiti, foi para a França estudar e concluiu um mestrado em engenharia matemática. “Engenharia matemática é uma forma de pensar. Você aprende muitas coisas que te fazem ser lógico no que está fazendo. Posso trabalhar com ciência da computação, estatística. É algo global.”
E, de fato, trabalhou nessa área até 2011. “Larguei meu emprego faz muito tempo.” Não descreve o momento como ruptura dramática, mas como deslocamento gradual de interesse. A dança, que sempre esteve presente, passou a ocupar mais espaço do que os números. Ainda assim, não renega a formação. “Eu sou engenheiro, na verdade”, afirma.
Suas alunas costumam se lembrar disso. “Elas me dizem: ‘É por isso que você é assim na aula, porque você é engenheiro’.” Ele descreve o próprio método: “Eu conto cada passo. Eu conto tudo. Suas mãos devem mexer assim, assim, assim. Tudo tem que ser perfeito.” Ri ao recordar. “Eu não pensava nisso antes. Mas talvez seja por causa da minha formação.”
Beaubrun nunca frequentou escolas de dança. Na infância, aprendeu assistindo a vídeos de Michael Jackson e Janet Jackson em VHS. “Eu ficava assistindo e aprendendo, aprendendo.” Só começou a fazer aulas formais aos 35 anos, quando esteve em Los Angeles. “Na minha cabeça, eu queria ser dançarino profissional. Mas nunca tive diploma. Com a dança, tudo é natural.”
Hoje, aos 45 anos —idade que costuma surpreender quem o vê—, criou um estilo próprio, batizado de tiaka. O nome vem do Haiti. “É um prato, uma refeição. Tem muita coisa nele.” A analogia serve para explicar a mistura. “O estilo é afro, ragga, hip hop, tudo misturado.”
Agora, prestes a experimentar o finzinho do Carnaval pela primeira vez, admite: “Eu não sei sambar. Mas eu quero aprender.” Diz que, quando viaja, gosta de entrar na cultura local. “Eu quero aproveitar a cidade. Entrar na cultura.”
Entre as aulas em São Paulo e a passagem pelo Rio, pretende filmar cenas para um possível clipe de “La Madame”, música que ainda não tem vídeo oficial. O plano é simples: dançar, registrar, circular.
Já entre Paris e Haiti, a ligação diária para o Haiti continua. “Às vezes eu ligo antes da aula, às vezes depois.” Ele diz que conta para a mãe onde está, quantas pessoas apareceram, quais músicas dançaram. Do outro lado, ouve conselhos simples, perguntas práticas, comentários sobre o clima. A distância de um oceano, para ele, virou rotina administrada por chamadas e mensagens. “É assim que eu fico perto.”
Se depender da energia que imprime às aulas —contagem precisa, braços marcando o tempo, alunos sorrindo—, o engenheiro que trocou planilhas por coreografias chega ao Brasil com uma equação resolvida: lógica nos passos, emoção na música, pista cheia.
Autor: Folha









.gif)