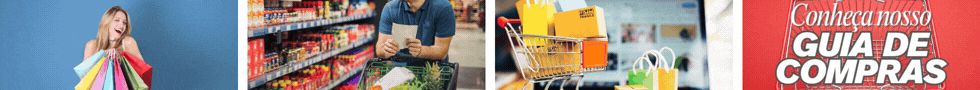Universidades públicas brasileiras raramente expulsam alunos. Mesmo em casos graves (fraudes, infrações disciplinares, crimes cometidos no campus), o processo costuma ser longo, burocrático e cercado de garantias.
Por isso, quando pipocou a notícia da expulsão de uma aluna da Universidade Federal Fluminense (UFF), logo surgiu no ar a suspeita de que havia algo no mínimo estranho na história. Ainda mais por se tratar de uma estudante conhecida fora do circuito acadêmico, com um alcance expressivo nas redes sociais.
Beatriz Bueno, de 28 anos, foi afastada do mestrado em “Cultura e Territorialidades” no final de dezembro, por videochamada. Segundo a UFF, ela não participou de todas as atividades exigidas e acabou reprovada em disciplinas obrigatórias.
No entanto, ela afirma ser vítima de perseguição ideológica — por parte de alunos, professores e da própria administração da universidade. O motivo? O tema de sua pesquisa: parditude.
O termo se refere à identidade do brasileiro mestiço e suas múltiplas raízes (africanas, indígenas e europeias). Também nomeia a experiência pessoal de quem não se encaixa nem como branco, nem como negro.
Por que os pardos incomodam
O conceito de parditude, aparentemente tão natural, parece incomodar determinados setores da academia e da esquerda (tanto a tradicional marxista quanto a identitária). E não é muito difícil entender por quê.
Quando os pardos se impõem como um grupo autônomo, e não uma subcategoria, eles ameaçam as divisões raciais rígidas que fortalecem as narrativas identitárias e as políticas afirmativas atuais (como cotas, editais, secretarias especiais, cargos comissionados).
Não é, portanto, apenas uma divergência intelectual. A disputa envolve recursos públicos, espaços de poder e a própria definição de quem tem direito a ser reconhecido como alvo do racismo.
Afinal, segundo o IBGE, 45,3% da população se declarou parda no último censo. É o maior — e, potencialmente, mais influente — grupo demográfico do Brasil.
A estratégia do movimento negro
O termo “pardo”, obviamente, não é uma invenção recente. Está presente nos censos brasileiros desde 1872, ainda no Império, e já foi usado para suavizar a condição negra, descrever a miscigenação ou simplesmente como rótulo genérico (variando conforme o contexto histórico).
O debate hoje não é sobre a palavra em si, embora a expressão parditude cause calafrios no mundinho woke. O ponto central está no que ela mexe: quem ganha voz, visibilidade e legitimidade a partir do momento em que essa identidade entra em cena.
Quando o debate racial se intensificou no Brasil redemocratizado, a estratégia do movimento negro foi clara: unificar pretos e pardos em uma única categoria, a dos negros, para fins estatísticos e políticos.
Essa fusão, estabelecida pelo Estatuto da Igualdade Racial de 2010, permitiu demonstrar que mais de 50% da população estava na base da pirâmide social. E, principalmente, abriu caminho para medidas como a Lei de Cotas de 2012 e a distribuição proporcional de recursos partidários.
Tribunais raciais
Discussões sobre meritocracia à parte, um grande problema surgiu quando a política saiu do papel — e, como não é raro acontecer, entrou em choque com a realidade.
Porque, se no censo do IBGE vale a autodeclaração (você é o que diz ser), nas universidades ganhou força a heteroidentificação. Ou seja, comissões passaram a analisar traços físicos para saber se um candidato tem direito ou não às cotas.
Dentro dessa lógica, o pardo — com sua aparência ambígua — virou a principal vítima da nova burocracia racial. Ou dos tribunais raciais, como dizem os críticos do modelo.
Só vale a aparência
Ainda hoje, a imprensa registra situações em que os julgadores consideram “insuficientes” os traços físicos apresentados e acabam anulando a autodeclaração parda.
São casos como o de Williane Muniz, barrada na Universidade Federal de Pernambuco após anos de tentativas para ingressar em Medicina. Ou de Letícia Lacerda, expulsa da Universidade Federal do Sul da Bahia a seis meses da formatura.
O STF já foi acionado diversas vezes. Recentemente, o ministro Nunes Marques reforçou que o único critério válido é a aparência — não a ancestralidade, nem fotos antigas.
O resultado é uma armadilha institucional em que a mesma pessoa pode ser considerada parda em um concurso e branca em outro, dependendo da composição da banca.
A pressão do Estado
O debate recente sobre a identidade parda não começou com o trabalho de Beatriz Bueno.
Denis Moura dos Santos, especialista da Universidade Federal de São Paulo, afirma que o Estado erra ao desconsiderar que esse grupo populacional possui múltiplas ascendências, e não apenas a africana. José Eustáquio Diniz Alves, demógrafo do IBGE, alerta há anos para o que chama de “genocídio estatístico dos pardos”.
Geísa Mattos, da Universidade Federal do Ceará, mostra como a mestiçagem afro-indígena é mal compreendida pelas bancas de heteroidentificação. Dagoberto José Fonseca, da Universidade Estadual Paulista, sugere que o Estado pressiona as pessoas a se encaixarem em moldes específicos para fins administrativos.
A lista inclui muitos outros nomes, mas nenhuma dessas figuras sofreu tantos ataques quanto Beatriz Bueno. A diferença está na forma, não no conteúdo.
Jovem e com perfil de influencer, Beatriz Bueno tirou a discussão do ambiente hermético das universidades e a traduziu para o grande público (ela tem 110 mil seguidores apenas no Instagram). Era só uma questão de tempo para que sua postura passasse a ser encarada como uma ameaça política.
“Estratégia da branquitude”
Para quem domina hoje o debate identitário, o conceito de parditude não é visto como algo neutro ou acadêmico. Pelo contrário: o movimento negro organizado o considera uma “estratégia da branquitude” para fragmentar sua categoria e enfraquecer as políticas afirmativas e de reparação.
Mas a reação não vem só do segmento woke. A “guerra” contra os pardos virou uma bandeira até de gente da esquerda marxista mais tradicional.
Para muitos comunistas da linha “raiz”, a parditude é mais um reflexo do mundo neoliberal — pois é centrada no corpo, prioriza a experiência individual e desloca o foco da luta de classes. Traduzindo: divide a classe trabalhadora em vez de uni-la contra o capitalismo.
Esse roteiro previsível ainda inclui associar o trabalho da Beatriz Bueno às pautas do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro, um grupo que apoiou Jair Bolsonaro nas eleições e brigou no STF contra as cotas raciais.
Essa aproximação temática foi o suficiente para carimbarem o debate como uma “porta de entrada para a direita” — ainda que a pesquisadora se defina como de esquerda e social-democrata.
Resposta em bloco
Quando Beatriz começou a se destacar nas redes sociais, há cerca de três anos, a resposta dos críticos veio em bloco, na forma de uma avalanche de artigos publicados em sites progressistas.
Os títulos já davam o tom da abordagem. “Por que retrocedemos à parditude?” (Revista Cult), “Parditude: o velho projeto do Brasil mestiço como retrocesso político” (Opinião Socialista), “Parditude, uma contradição” (Casa Marx).
Outras chamadas na mesma linha: “Parditude: uma nova moeda do capital racial?” (Le Monde Diplomatique Brasil), “Noção de parditude é equivocada e representa regressão no debate racial do país” (Instituto Búzios), “Parditude é uma intenção política, não a consequência automática da diferença” (Alma Preta).
Mano Brown e Camila Pitanga
A tensão aumentou em agosto do ano passado, quando Beatriz questionou em suas redes a identidade racial de Camila Pitanga, após a atriz se declarar negra no podcast do rapper Mano Brown. Ela é filha do ator Antonio Pitanga, negro, e da bailarina Vera Manhães, cuja família “é muito misturada”, nas palavras da própria artista.
O argumento da pesquisadora era simples: pessoas comuns com aparência similar à da artista costumam ser barradas em bancas de heteroidentificação, enquanto celebridades acabam escapando desse filtro.
Para piorar, no calor da polêmica, Beatriz compartilhou no X uma especulação infundada sobre a paternidade de Camila — um passo em falso, baseado em um boato antigo de bastidor. Segundo essa fofoca, a atriz poderia ser filha de um ex-marido francês de sua mãe, e não de Antônio Pitanga.
A acadêmica apagou o post duas horas depois e pediu desculpas para a atriz. Mas já era tarde demais.
O episódio passou a ser usado como uma prova definitiva de que a ideia de parditude é uma arma contra as pessoas negras. Os ataques se tornaram pessoais e implacáveis.

Racismo e transfobia
A hostilidade contra Beatriz Bueno, que já vinha se acumulando nas redes sociais, ganhou força na Universidade Federal Fluminense — onde seus colegas começaram a organizar manifestações para pedir seu desligamento do programa de mestrado.
Inicialmente acusada de racismo (por supostamente defender o enfraquecimento das políticas afirmativas), ela também passou a ser rotulada como transfóbica. A segunda pecha veio de sua ligação com a Associação Mátria, grupo que defende direitos para mulheres baseados no sexo biológico.
A perseguição, diz Beatriz, tornou-se institucional quando a coordenação do programa autorizou a fixação de manifestos contra ela nas paredes da universidade. Ainda segundo a pesquisadora, a UFF chegou a permitir que a turma inteira se retirasse da sala durante um seminário apresentado por ela, deixando-a sozinha.
Procurada pela reportagem, a assessoria da universidade se limitou a enviar um link para uma nota oficial divulgada em seu site.
De acordo com o texto, a decisão de afastá-la “teve como fundamento o descumprimento de pressupostos previstos no regimento do programa, especialmente no que se refere à participação e à aprovação nas atividades e disciplinas obrigatórias do curso, não havendo qualquer relação entre o desligamento e o tema de pesquisa desenvolvido pela ex-aluna”.
Palestra com drag queen
Em entrevista à Gazeta do Povo, Beatriz Bueno reafirmou que sua saída da UFF não foi motivada por problemas acadêmicos, e sim pela perseguição política e ideológica ligada à sua pesquisa e às suas opiniões públicas.
Segundo a pesquisadora, a universidade recorreu de forma irregular ao “jubilamento”, embora ela estivesse no programa há menos de um ano e ainda dentro de todos os prazos regimentais.
Beatriz também diz que o curso virou um “tribunal interno”, onde a direção agia de forma conivente com a pressão dos alunos militantes. “A coordenação veio solicitar que eu pedisse desculpas pela minha associação com a Mátria. Mas eu não me desculpei, não me desassociei e continuei falando.”
Ainda de acordo com a pesquisadora, a UFF alegou faltas em atividades que ela classifica como eventos de doutrinação ideológica organizados para confrontar suas ideias.
“Eles fizeram, por exemplo, uma palestra com um homem que se veste de mulher, Rita von Hunty, e queriam me obrigar a ir”, afirma, referindo-se ao personagem do ator e drag queen Guilherme Terreri, conhecido no YouTube por difundir discursos marxistas.
E, apesar de afirmar ter reunido provas documentais de assédio e de falhas no processo (hoje analisadas com a ajuda de uma advogada), Beatriz garante não pretender recorrer para retornar à universidade. “Não volto para aquele hospício”, diz.
De negra para parda
Beatriz Bueno cresceu em uma família multirracial, e conta que seus conflitos de identidade começaram dentro de sua própria casa. Antes da vida acadêmica, a pesquisadora trabalhou como operadora de caixa e chegou a se identificar como negra, influenciada pelo ativismo em alta no país a partir das manifestações de 2013.
Com o tempo, e o avanço nos estudos, ela percebeu que essa identidade era uma “simulação” desconfortável. Assumiu-se como parda e, mais recentemente, converteu-se ao cristianismo (ela frequenta a Igreja Batista).
O foco de seu trabalho, diz Beatriz, vai além da reflexão acadêmica: é dar o devido reconhecimento a quem se sente perdido no chamado “limbo racial”. “O objetivo, no fundo, é acolher as pessoas. Elas veem os meus vídeos e comentam: ‘Nossa, eu não estou louca! Não estou sozinha. Achei que era só eu que sentia isso’”, afirma.
Autor: Gazeta do Povo