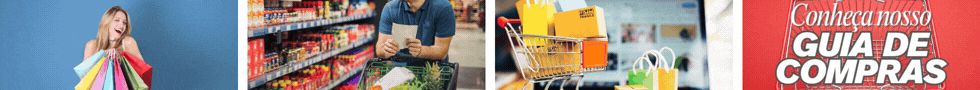A última trend da semana no Instagram foi a dos “evangélicos na lata de conserva”. Eu mesmo aderi, com minha família. Afinal, quem vive no espaço público sabe que ironia se enfrenta, muitas vezes, com serenidade e até com humor.
A provocação surgiu após o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói – estreante e já rebaixada na elite do samba carioca –, que apresentou, na Sapucaí, a ala intitulada “Neoconservadores em Conserva”. A alegoria fazia alusão aos conservadores brasileiros: foliões fantasiados de latas gigantes traziam estampada a frase “Família em Conserva”, acompanhada da ilustração de um núcleo familiar: pai, mãe e dois filhos.
Imediatamente, surgiram acusações de intolerância religiosa e discurso de ódio. Mas, para nós, o ponto não é exatamente este. A questão central não é se a sátira foi elegante ou ofensiva. O ponto é outro, muito mais estrutural: trata-se do financiamento público dessa manifestação carnavalesca, como bem destacaram o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) e o Instituto Isabel em nota pública. Ou seja, a discussão não é sobre liberdade de expressão; a discussão é sobre a finalidade do dinheiro público.
É preciso começar pelo óbvio: a arte é livre. Sempre foi. O carnaval, por tradição, é espaço de crítica, irreverência, exagero e caricatura. Escolas de samba podem ironizar movimentos culturais ou tensionar valores sociais. Isso está dentro do jogo democrático. A Constituição protege a liberdade artística e deve protegê-la.
Laicidade não é autorização para que o poder público trate convicções morais ou religiosas como resquícios atrasados de um passado a ser superado
O problema surge quando o Estado deixa de ser garantidor da liberdade e passa a ser financiador de narrativas que promovem a ridicularização simbólica de parcelas específicas da sociedade. A partir desse momento, a discussão já não é cultural; ela se torna constitucional.
O Brasil é um Estado laico. Mas é preciso compreender corretamente o que isso significa. Laicidade não é laicismo. Não é hostilidade à religião. Não é a expulsão do fenômeno religioso da praça pública. Tampouco é autorização para que o poder público trate convicções morais ou religiosas como resquícios atrasados de um passado a ser superado.
O modelo brasileiro – como temos insistido ao longo dos anos – é de laicidade colaborativa. Separação entre Igreja e Estado, sim. Confusão entre as ordens, não. Mas também não há, na Constituição brasileira de 1988, qualquer projeto de neutralidade agressiva ou de combate à fé.
A Constituição de 1988 consagrou um modelo de laicidade que, ao contrário do que alguns progressistas franceses imaginam, não é laicista nem hostil ao fenômeno religioso. O Brasil não adotou um modelo de neutralidade agressiva, no qual o Estado deve se comportar como se a religião fosse um elemento estranho à vida pública e um mal à República, ao estilo francês. Nosso modelo é de separação entre as ordens espiritual e temporal, mas também de reconhecimento, respeito e colaboração.
Não por acaso, o texto constitucional invoca a proteção de Deus em seu preâmbulo. Não por acaso, assegura imunidade tributária aos templos. Não por acaso, permite o ensino religioso nas escolas públicas e reconhece o casamento religioso com efeitos civis. Não se trata de confessionalidade etc. etc. etc. Trata-se de uma laicidade que compreende a religião como dimensão legítima da vida social.
A laicidade brasileira impõe ao Estado o dever de não estabelecer cultos, de não embaraçar o funcionamento das igrejas e de não manter relação de dependência ou aliança com instituições religiosas. Mas ela também exige que o poder público atue com igual consideração em relação às diversas convicções presentes na sociedade; esse é o viés da nossa neutralidade constitucional: imparcialidade. A laicidade brasileira pressupõe respeito institucional. E respeito institucional implica igual consideração.
Quando recursos públicos – oriundos do bolso do pagador de impostos – são destinados a manifestações que promovem a ridicularização simbólica de grupos identificados por suas convicções morais ou religiosas (no caso, os evangélicos, um quarto da população brasileira), surge uma tensão constitucional relevante. Não se trata de proibir a crítica cultural. Trata-se de perguntar se o Estado pode financiar essa crítica quando ela se converte em desqualificação dirigida.
O artigo 37 da Constituição estabelece que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Isso não é mera formalidade. Significa que o dinheiro público é juridicamente vinculado a finalidades públicas. Ele não pertence a governos, partidos ou agendas ideológicas. Ele pertence à coletividade.
A pergunta não é se a arte pode criticar valores morais e religiosos. A pergunta é se o Estado deve financiar essa crítica quando ela se dirige a parcelas específicas da sociedade que, inclusive, sustentam o próprio erário
O fomento à cultura, previsto no artigo 215, é dever do Estado. Mas esse dever não é ilimitado. Ele deve promover pluralidade, não antagonismo deliberado. Deve ampliar a expressão cultural, não se converter em instrumento de fragmentação social. A pergunta, portanto, é simples e precisa: pode o Estado financiar a ridicularização de grupos claramente identificáveis por suas convicções morais e religiosas?
O Estado não pode agir como parte em disputas culturais. Ele não foi instituído para promover uma agenda moral contra outra. Ele existe para assegurar direitos fundamentais, preservar a paz social e garantir que a pluralidade conviva sob o mesmo teto constitucional, na busca pelo bem comum. Não estamos discutindo se alguém pode criticar valores morais e religiosos. A sociedade é livre. O que se discute é se o erário pode ser utilizado para validar institucionalmente essa crítica quando ela se dirige a dezenas de milhões de brasileiros que, inclusive, sustentam o próprio financiamento público.
Ainda é importante ressaltar que a Constituição reconhece a família como base da sociedade e lhe confere especial proteção. Isso significa que o tema da família não pode ser tratado pelo próprio Estado (ou com o dinheiro público) com escárnio institucionalizado.
A dignidade da pessoa humana, fundamento da República, exige que o poder público trate seus cidadãos com respeito, ainda que discorde de suas convicções. O pluralismo político, também fundamento constitucional, assegura que diferentes visões de mundo coexistam sem que o Estado se torne instrumento de supremacia cultural.
A pergunta, portanto, não é se a arte pode criticar valores morais e religiosos. A pergunta é se o Estado deve financiar essa crítica quando ela se dirige a parcelas específicas da sociedade que, inclusive, sustentam o próprio erário. Não se trata de censura. Trata-se de responsabilidade institucional. Em uma democracia madura, o governante de turno não é proprietário do orçamento. Ele é gestor temporário de recursos que pertencem a todos, conservadores, progressistas, religiosos, agnósticos, críticos e apoiadores.
Quando o Estado decide financiar manifestações que ridicularizam segmentos sociais claramente identificáveis, ele deixa de exercer a função de árbitro institucional e passa a atuar como agente de polarização. E isso é incompatível com o dever de impessoalidade administrativa. E é justamente isso que fragiliza o pacto social.
Reitera-se que a liberdade artística permanece intacta. O que se questiona é a legitimidade do financiador. Se a iniciativa fosse exclusivamente privada, o debate seria outro. Mas, quando recursos provenientes de tributos pagos por todos são direcionados para manifestações que promovem antagonismo cultural, há, no mínimo, uma tensão com o princípio da impessoalidade administrativa e da isonomia. Não se pode agir como se determinados grupos fossem culturalmente ultrapassados e, portanto, passíveis de escárnio financiado pelo erário. Se a arte é livre, o orçamento público não é.
O Estado brasileiro não foi concebido para escolher lados em disputas morais. Ele existe para garantir direitos fundamentais e preservar a convivência entre diferentes cosmovisões. Já a laicidade colaborativa não autoriza o poder público a converter-se em patrocinador de escárnio institucionalizado.
O Estado brasileiro não foi concebido para escolher lados em disputas morais. Ele existe para garantir direitos fundamentais e preservar a convivência entre diferentes cosmovisões
No fundo, o debate não é sobre carnaval. É sobre os limites do Estado em uma sociedade genuinamente plural. A democracia brasileira é suficientemente robusta para conviver com críticas, ironias e tensões culturais, que fazem parte da vida pública. O que ela não pode tolerar é que o próprio poder público abandone sua posição de árbitro institucional e passe a atuar como agente de polarização. O papel do Estado não é acirrar divisões, mas assegurar que diferentes visões de mundo coexistam sob o mesmo pacto constitucional. Quando o Estado escolhe um lado em disputas culturais, a laicidade deixa de ser garantia de convivência e passa a ser apenas discurso retórico.
Isso enfraquece a confiança pública, tensiona desnecessariamente o tecido social e compromete a própria legitimidade institucional. O rebaixamento da escola de samba pode ter sido apenas um episódio cultural, mas ele simboliza algo maior: toda sociedade responde, de alguma forma, aos excessos de seus próprios agentes.
Que o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói sirva menos como motivo de celebração e mais como oportunidade de reflexão. Afinal, o que está em jogo não é o resultado de um desfile, mas a responsabilidade do Estado diante da fé, da consciência e da dignidade de milhões de brasileiros.
Autor: Gazeta do Povo









.gif)